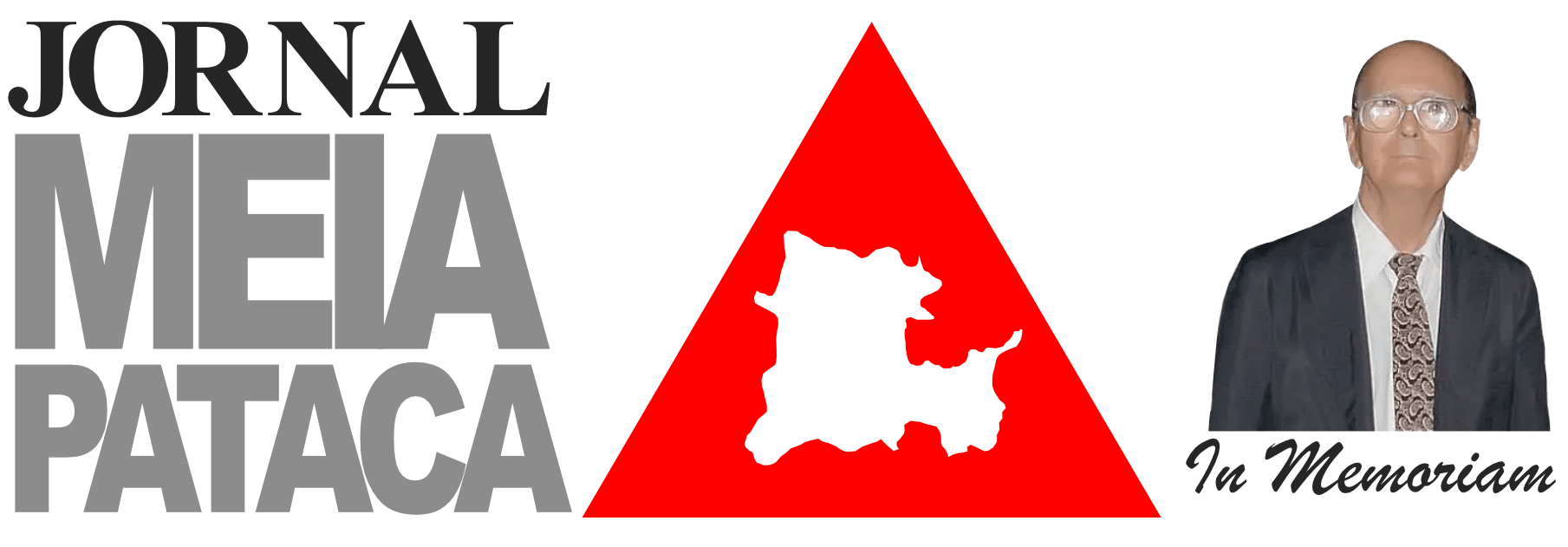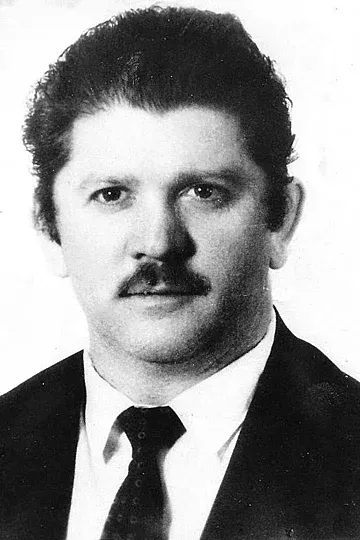Mudanças no cotidiano do trabalhador rural ao se tornar operário - novos hábitos adquiridos pela necessidade de sobrevivência.
Disciplina no ambiente de trabalho
Em Cataguases a disciplina era obtida com advertências e ocorrências cujas papeletas encontram anexadas às fichas de Admissão e Demissão dos operários.
Os operários que vieram da zona rural não estavam acostumados com a disciplina do trabalho determinado pelo ritmo das máquinas. Temos vários exemplos de anotações de advertências que exemplificam a prática disciplinar.
Um operário foi muitas vezes advertido e suspenso por produzir tecidos com defeito. Sua indisciplina era de tal ordem que por várias vezes se recusava a assinar várias das advertências, o que causou sua demissão – pouco habitual - sem justa causa.
A rigidez era severa na punição, mas justa na forma de reaproveitar este operário em outra indústria sem desclassificá-lo como indisciplinado. O operário indisciplinado era punido com a demissão, porém, não levava em sua carteira o registro de indisciplinado pois no contexto industrial de Cataguases esse mesmo operário era aproveitado em outra indústria pertencente à mesma família das indústrias têxteis.
Os “industriais” ou “homens de negócios” mantinham o hábito de demitir um operário e, imediatamente admiti-lo em outra indústria em setores similares ao que foi demitido. Esta prática era uma constante, não deixando o operário desempregado por muito tempo e consequentemente as indústrias mantinham o controle da situação no aproveitamento da mão-de-obra já em atividade e já qualificada. Apesar de este exemplo estar bem próximo dos dias atuais devido à data de admissão isto nos faz perceber uma prática antiga que perdurou com o passar dos tempos.
A produção e a qualidade eram metas a serem cumpridas.
Outra incidência de indisciplina no meio têxtil era a ausência de operários no controle de sua máquina com a desculpa de ter se ausentado para conversar com o seu colega da seção. Hábito quase natural dado à quantidade de vezes que esse procedimento foi acusado pelos agentes da disciplina (Consta da carta de advertência porque o operário (J.F.M) foi pego em outra seção conversando.
A advertência só era acompanhada de punição após observar o primeiro delito. Podemos dizer que isto era mais comum em menores, embora também haja ocorrido entre aqueles de maioridade como o exemplo abaixo.
(“março, 30, 1964 Sr. J.F.M. – CP 96758- S 62 ), conforme abaixo:
Prezado Senhor, muito a contra gosto, vimos pela presente chamar-lhe atenção pelo seu procedimento. Dia 26 um dos diretores o encontrou em uma seção completamente alheia aos seus serviços, juntamente com outros três operários conversando, o que é expressamente proibido. Isto constitui desrespeito ao regulamento interno e quebra a disciplina, o que não permitimos em hipótese alguma. Sua estabilidade e comportamento devem ser estímulo e exemplo para outros não estáveis. Contamos com sua colaboração para o caso em foco, evitando assim a necessidade de outras medidas.
A forma de trabalho por turno colocava os operários em completa atenção para a próxima troca, que era de 4 em 4 horas. Trabalhava-se 4 horas e folgavam-se quatro, cada funcionário trabalhava dois turnos diários e folgava outros dois turnos.
Outro ponto que ficou claro era a chegada de um novo trabalhador e junto a ele outro operário ensinava-lhe o serviço, embora haja relatos em que o depoente disse que muitos operários mais experientes não gostavam de ensinar.
As advertências eram utilizadas como forma de chamar a atenção para uma perfeita produção e nos casos de reincidir o operário ou era despedido ou cobrava-lhe multa por dias ausentes.
Outra forma de advertência foi através da entrevista de Lecília Torres Araújo (Entrevista de número 2 arquivada no CDH de Cataguases), ela relatou como era o seu trabalho na indústria. Muito menina trabalhava por necessidade financeira e talvez não percebesse que suas atitudes dentro da indústria eram consideradas indisciplina. Então levava bronca dos mestres ou contramestres da seção. Ela nos contou que: “...o mestre tinha dia que dava cada um empurrão na gente, beliscão, mas a gente precisava trabalhar né, tinha que tolerar...”
Edgard Mendes da Silva, (Entrevista de número 6, arquivada no CDH de Cataguases) contramestre na Indústria Irmãos Peixoto. Trabalhou até se aposentar e quando atuava em sua função tinha autoridade de chamar a atenção de “qualquer” trabalhador operário. Inclusive quando teve uma greve, já existia sindicato e que ele chegou a dar suspensão a um operário porque tentou entrar na greve e os proprietários apoiaram seu ato de punição.
Qual seria a expectativa de vida destas pessoas naquela época? Ganhar o pão de cada dia e tentar adquirir moradia própria. O fato de estar explícito nos relatos orais ganhar a vida e moradia própria reflete bem às condições adversas vividas no campo. Essa primeira geração de operários vem de um mundo onde eles não são proprietários de terra, são posseiros, colonos, moradores, que vivem do expediente da produção por “meia” ou “terça” (o significado desta expressão é a divisão em 2 ou 3 partes, ficando uma delas para o proprietário das terras e a outra parte para o lavrador. Era uma prática constante, o acordo verbal valia a honra masculina, era o mesmo que assinar um documento).
O objetivo dos que vinham do campo era garantir o emprego e conseguir casa para a família morar. Estas casas tinham um aluguel irrisório que era descontado no pagamento e dava mais tranquilidade à família que usufruía deste benefício. O valor atribuído à conquista de uma moradia própria, à moralidade da família deixa explícito mais um ponto de observância da origem da “cultura operária”. O núcleo familiar era o que movia esta estratégia no mercado de trabalho. Sem isto ficaria difícil desenvolver novas práticas profissionais e sociais.
O valor das amizades
Muitos operários eram semianalfabetos, ocupando um cargo dentro de uma indústria, que também era novidade para o mercado de trabalho. Pessoas que normalmente vinham da lavoura e estavam acostumados a outro ritmo de vida e de trabalho. Suas conquistas eram limitadas. Muitas das vezes dependiam de alguma pessoa a qual consideravam “amigas”, para lhes apresentar na indústria e lhes conseguir uma colocação no novo mercado de trabalho. Nestas apresentações todo conhecimento social era utilizado para garantir uma inserção social e, quase sempre essas relações se transformavam em relações de “apadrinhamento” ou de verdadeiras amizades. Valores que substituíram a falta de qualificação profissional. A amizade não era fator relevante somente para se conseguir um emprego na indústria. Também fazia parte da motivação dos trabalhadores, onde o respeito e reconhecimento que tinham pelos patrões se misturavam à amizade.
O trabalho era dignificante e as famílias tinham muita seriedade com o compromisso assumido com o patrão. Nos horários de troca de turma, ao tocar a sirene da fábrica todos já estavam prontos e a postos na portaria para fazerem à troca. A sirene era uma forma de direcionar o operário à indústria.
Surge no decorrer das entrevistas um fato curioso ligado à gratidão dos operários pelo trabalho conquistado. Conta-nos a entrevistada Altina da Silva e Silva que não se lembra precisamente do ano, mas relata que houve um incêndio na Indústria Irmãos Peixoto por volta de 1965 quando trabalhava no horário das 14 horas. (Entrevista de nº 008 com Altina da Silva e Silva arquivada no CDH de Cataguases).
Operários e operárias trabalhavam quando começaram a ouvir os apitos da fábrica. O fogo estava na caixa de força que mantinha algumas máquinas em funcionamento. Por sorte tinha sido realizado um treinamento de incêndio nas indústrias da cidade e mesmo assim outras fábricas deram sua contribuição enviando caminhão pipa e pessoal habilitado para ajudar no incêndio.
O entrevistado Francisco de Assis Rodrigues também confirmou este acontecido, completando informações de Altina dizendo que: “(...) queimou muito pano, estragou muita coisa, explodiu um transformador (...) o transformador começou a ferver, ninguém percebeu aquilo (...) depois do acidente este transformador foi levado para a parte externa da fábrica (...) ele ficava exatamente perto da sala de pano onde tinha um depósito de pano (...) ele ferveu esquentando o cabo de força, quebrou e estourou levando fogo até o teto (...). O prejuízo foi muito grande”.
José Rodrigues conta que se juntou com Epifânio, Antônio Mota e José Alves, todos funcionários da Indústria Irmãos Peixoto, e elaboraram um projeto junto ao Sr. José Peixoto, na época proprietário da fábrica, para ajudar na recuperação do prejuízo. A proposta era trabalhar sábado e domingo de graça. José Peixoto ficou “satisfeito e comovido” e os operários (as) aceitaram e trabalharam durante quatro sábados e quatro domingos. Eles tinham que ajudar, disse Francisco Rodrigues, “os ânimos mudaram e a fábrica daí por diante foi só superando sua produção e venda”. Isto comprova mais uma vez a veracidade dos fatos quando disse que operários tinham generosidade patronal. A cumplicidade entre patrão, operários e trabalho era explícita. Uma amizade atrelada à gratidão dava uma nitidez do que chamamos de “cultura operária”
A viuvez e a moralidade
Por várias vezes alguns dos entrevistados disseram que o pai havia adquirido certo tipo de doença, impossibilitando-o de exercer suas funções no trabalho ou até mesmo que a mãe ficara viúva com vários filhos, alguns até menor de idade. Normalmente as famílias tinham muitos filhos e eles ficavam responsáveis muito cedo em manter as despesas da casa. Estes quando completavam idade ou quando tinham um porte físico razoável eram encaminhados a uma fábrica para ajudarem no sustento do lar, por menor que fosse o salário, fazia diferença nas compras do mês. O salário adquirido com o trabalho era para suprir a necessidade de alimentação na família. Ser viúva e não mais se casar era um valor de família da época. E pelo que consta nas entrevistas, as famílias das primeiras décadas do século XX preservavam essa moralidade. As esposas viúvas deveriam passar para seus filhos valores que viessem a ser parte de suas vidas futuras. Por isso era tão preservada a viuvez.
A menoridade do operariado têxtil
Das 39 entrevistas, 25 relataram ter trabalhado antes da idade permitida, chegando inclusive a alterar idade sonhando em serem aceitos na fábrica. Esta era uma prática constante e tida como normal. Trocar a certidão de nascimento para fins de trabalho ou para fins escolares ajudava a família ter uma renda um pouco maior.
Do restante dos entrevistados apenas 14 se tornaram operários quando adquiriram maioridade. Ricardo Medeiros Pimenta relatou que desde meados de 1920 o trabalho era permitido para maiores de 14 anos, mas a idade não era empecilho para os industriais, uma vez que a própria administração da fábrica permitia e aceitava a alteração dos registros para empregar os menores que ajudavam no orçamento familiar.
Nas indústrias no início do século XX era comum o emprego da mão-de-obra menor de idade. Através dos testemunhos orais vários relatos de ex-operários (as) que disseram ter-se iniciado no trabalho com idade ainda não permitida legalmente. A necessidade imposta pelo novo ritmo de trabalho, pelas máquinas implantadas na produção e a própria necessidade da população delimitava suas exigências: porte físico e serem filhos de “boa família”. O porte físico permitia absorver indivíduos de várias idades. O trabalho nas máquinas exigia um novo corpo para condicionar-se ao trabalho, mas como ainda tinha uma mão-de-obra qualificada disponível no mercado para preencher as necessidades do momento, eram aproveitados os interessados em trabalhar para melhorar o orçamento doméstico.
O entrevistado João Carlos que trabalhou na Indústria Irmãos Peixoto, começando aos 15 anos, no ano de 1959 iniciou seu trabalho na função de ajudante no setor de tecelagem, mas sabendo por parte dos companheiros de jornada que iria passar pela “vassoura”, uma função atribuída aos aprendizes; ao saber ficou apreensivo, contudo acreditava que com ele seria diferente, já que não iniciou suas atividades varrendo corredor. Qual foi sua surpresa quando o mestre de sua seção colocou em suas mãos a tão falada vassoura e informou-lhe que a partir daquela hora ele passaria a varredor. João Carlos sentiu aquela mudança como uma humilhação perante os colegas de trabalho, seu choro no exato momento reflete a fragilidade da infância, ainda criança deveria assumir uma função propícia à idade. Somente quando se completava 18 anos é que o Decreto Lei 5.452/01.05.1943 autorizava a transferência para a Carteira Profissional Definitiva, ou seja, Carteira de Maior Idade.
Edgard Mendes da Silva exemplifica colocando à disposição deste trabalho suas carteiras profissionais. João Carlos disse que sentia seu trabalho como o de um adulto e recebia salário de um “menor”. A parte salarial dos operários em “muitas vezes ganhando menos que um adulto, as crianças eram em número expressivo como maioria no meio operário” João Carlos compreendia ter direito aos benefícios dos operários de maior idade e um deles era o direito de morar em uma casa cedida pela fábrica. Este operário, a partir do ano de 1971, após seu casamento, passou a estudar à noite, cursando o ginásio e depois cursou o técnico de contabilidade. Ele estudou no Colégio Antônio Amaro e chegou a uma aposentadoria no dia dois de janeiro de 1998, ocupando o cargo de Encarregado de Controle de Produção e Custos.
Decreto Lei nº 926 de 10.10.1969 Art. 13 – A carteira de trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada.
As lembranças dos antigos dias de trabalho causam emoção e às vezes dor. A condição imposta pelo trabalho interrompia a infância, ou parte dela. A menor Isolita de Paiva teve não só sua infância interrompida como também sua vida. Foi no dia 27 de dezembro de 1923 quando trabalhava na Indústria Irmãos Peixoto e Cia., às 08h30min da manhã quando a jovem criança, de cor parda, filha de Sebastião de Paiva e de Antônia Augusta de Paiva teve seu corpo imprensado nos tambores de uma máquina têxtil ficando de cabeça para baixo e vindo a falecer imediatamente. O barulho que sucedeu no momento chamou a atenção de outros (as) companheiros (as) de trabalho, que rapidamente foram chamar o contra mestre da seção que em seguida chamou o responsável e proprietário. A máquina foi parada, chamaram-se o farmacêutico José Esteves e o Dr. José Lima Ribeiro de Almeida. Constatada a morte da vítima, o processo correu em seus parâmetros legais e o delegado de polícia Dr. Francisco de Paula Faria e Sousa pediu às testemunhas seus depoimentos. Neste momento há mais uma comprovação da menoridade na indústria têxtil, duas testemunhas também eram menores de idade. A primeira testemunha foi Antônio Silva de 14 anos e a segunda Delfina Borges de 15 anos e operária há cinco anos, portanto, admitida aos 10 anos de idade.
Analisando um pouco mais este processo percebemos que era uma prática da época, os pais ou responsáveis assinarem um termo de compromisso ou responsabilidade ao permitir que seus (as) filhos (as) trabalhassem enquanto menor. Não tivemos acesso a este documento em específico, mas parte do processo confirma que isto acontecia.
Estando no Brasil e se tratando da CLT de 1943 que permitia o trabalho do menor a partir dos 12 anos de idade, ainda não estava validado por lei este termo de compromisso do responsável. Porém o Decreto Lei nº. 926, de 10.10.1969, art. 17, parágrafo 1º diz que “tratando-se de menor de 18 anos, as declarações previstas neste artigo serão prestadas por seu responsável legal” veio colaborar com o que já acontecia. Sendo assim, os menores trabalhadores do setor têxtil muitas vezes ganhando menos que um adulto, era em número como maioria no meio operário. Faziam parte de uma mão-de-obra “barata”, “dócil” e quase “agradecida”.
Ainda sobre a autorização para menores trabalharem nas indústrias têxteis de Cataguases, temos parte do depoimento do entrevistado Idimar Vilela onde fala de um tempo em que tinha 13 anos e alguns meses e que neste mesmo período carregava almoço e jantar para alguns dos trabalhadores da construção da Cia. Industrial Cataguases. Chegando lá em uma tarde, exatamente no dia primeiro de março de 1948 ele deparou-se com o proprietário da fábrica e disse muito afobado que queria trabalhar dentro da fábrica. O proprietário paternalmente lhe respondeu dizendo que, primeiramente, se cumprimenta e deu-lhe um “Bom Dia” e em seguida, perguntou-lhe se tinha mesmo vontade de trabalhar e quantos irmãos tinham em sua casa. Ele respondeu ter mais sete irmãos querendo ajudar os pais no orçamento familiar. Então o proprietário tirou um cartão do bolso, que o próprio Idimar disse estar escrito a mão, onde se lia: “autorizo meu filho de menor a trabalhar em sua fábrica”. Imediatamente ele levou o cartão para casa, providenciou a documentação juntamente a um retrato para a expedição de uma carteira de trabalho para menor. No dia 17 de março, quinze dias após sua conversa com o proprietário, Idimar Vilela estava trabalhando como operário.
Comemorações e festividades na indústria
A fábrica em si não era só trabalho, também tinham suas oportunidades de laser. Foram várias as entrevistas que relataram a comemoração do Dia 1º de Maio, com a participação dos operários e operárias nos desfiles carnavalescos, de uma banda de música composta por operários, de um time de futebol e de um incentivo que era a eleição do Operário Padrão.
O dia 1º de Maio era iniciado bem cedinho com a banda musical passando pelas ruas centrais da cidade em alvorada. Nas praças um aglomerado de operários se reunia para passar o dia. Passeios de trem eram programados para que quem pudesse e quisesse ir conheceria outras localidades da redondeza. Muitas moças e rapazes aproveitavam este dia para se divertirem porque os pais não liberavam as moças para passeios e divertimentos que pudesse “ferir a honra e conduta de uma moça”. Mas como era uma comemoração da fábrica muitos pais deixavam suas filhas acompanharem essas festividades porque diziam que era um lazer oferecido pelo trabalho e que por isso tinham que participar assegurando seu emprego.
Outro fato que foi significante nas entrevistas foi a eleição e premiação do Operário Padrão. Foi possível localizar na cidade a primeira operária padrão da cidade de Cataguases, Maria Mendes Neto. Ela relatou que os candidatos e candidatas eram escolhidos por um funcionário chamado José do Carmo que trabalhava no Departamento Pessoal da fábrica. D. Maria, diante de sua simplicidade e honestidade não votou nela própria. Achou que seria suficiente se votasse em uma companheira de trabalho que no seu entender merecia mais do que ela própria. Fazendo um parêntese no assunto, D. Maria em outra situação na fábrica, recebeu seu salário em um determinado mês e percebeu que dentro do envelope continha um salário mínimo vigente e ela recebia apenas meio salário. Então foi capaz de devolver à fábrica a outra metade, ficando somente com o que era seu de direito.
Voltando à eleição de Operário Padrão, Maria Mendes foi a candidata vencedora, ganhou uma viagem a Belo Horizonte onde nunca havia ido. Como era uma pessoa casada e com filhos conseguiu outra companheira de trabalho para acompanhá-la, chamada Nadir. Chegando lá ficou hospedada em um hotel de luxo, juntamente com outros operários ganhadores das eleições de outras cidades brasileiras. A recepção foi com uma reunião à noite, no SESI de Belo Horizonte, com “muita gente chique”, um discurso que ela disse ter sido maravilhoso direcionado a ela e à sua família, onde Maria Mendes trajava um sapato que havia mandado pintar e um vestido de tecido de Anexo 25. uma banca, ou seja, tecido barato, afinal ela não tinha a menor condição financeira de se vestir melhor. Ainda em Belo Horizonte, Maria Mendes recebeu várias premiações, sendo uma, considerada por ela a mais importante e que não chegou a receber, foram vinte e cinco indústria de tecidos que a presentearam com cortes de tecidos. Nesta hora ela recebeu um cartão onde dias após as comemorações retiraria o prêmio. A amiga Nadir que a acompanhou ficou de posse deste cartão e chegando à Cataguases entregou ao operário Nelson Batista que iria em viagem à Belo Horizonte. Desde então ela nunca mais recebeu nem o cartão, nem o prêmio. Outros prêmios lhe foram entregues, como: uma garrafa de café térmica, alguns outros cortes de tecidos, cortes de flanela (outro tipo de tecido) e uma quantia em dinheiro que ela não se lembra quanto. Ao retornar à Cataguases, Maria Mendes foi recebida no antigo Clube Social e conversando com o Sr. Waldir e Alzir Arruda, disseram-lhe que estariam de consciência pesada se não tivessem votado nela. Após alguns dias foram distribuídos na cidade alguns folhetos e um breve livro contando desta eleição em Cataguases, mas Maria não tem guardado nenhum destes artigos para ilustrar nosso trabalho.
As comemorações e festividades realizadas através da indústria sempre foram apoiadas e aprovadas pelos operários (as). O círculo social em que viviam não lhes proporcionava tais oportunidades. A família sempre estava de acordo com a ausência das moças quando era dia de festa. Diante desta evidência fica mais uma vez demonstrado como era real a presença dos valores morais. Era assim que as famílias viviam, passando de geração a geração seus costumes e valores.
Foto: Banda de Música - Acervo do CDH de Cataguases.
Fonte: A vida social e familiar do operariado têxtil, Cataguases - século XX
Dissertação de mestrado apresentada à Universidade Salgado de Oliveira em Niterói - RJ como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em História área de concentração: Sociedade, Cultura e Trabalho, pela Professora e Mestre em História, Claudia Cristina da Silva.
Redatora Chefe: Karla Valverde